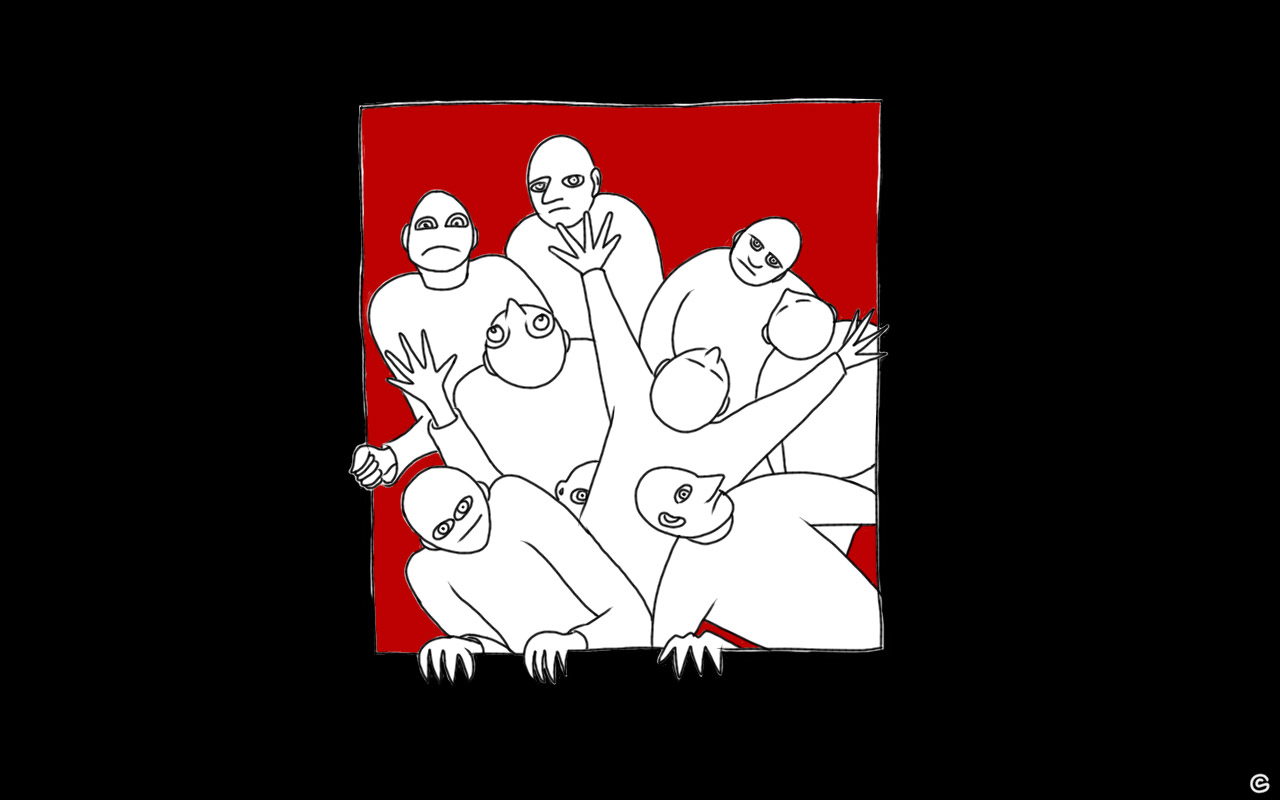di SANDRO CHIGNOLA.
Riprendiamo dalla rivista brasiliana “IHU – Revista do Instituto Humanitas Unisinos” questa intervista a Sandro Chignola su Foucault
IHU On-Line – Em que sentido autores como Foucault e Agamben auxiliam a pensar a política e a tanatopolítica do presente?
Sandro Chignola – Seria forte a tentação de responder imediatamente: “muito”. E, com efeito, a ampla circulação das fórmulas foucaultianas, retomadas não só por Agamben, mas também por boa parte do debate filosófico-político e teórico-crítico contemporâneos, parece demonstrar, em muitíssimos campos de pesquisa, a sua utilidade. Falou-se de biopolítica em relação às tecnologias de sequenciamento do DNA, em relação às políticas de controle das migrações, em referência a alguns recentes desdobramentos biomédicos, para aludir às transformações do Welfare State ou dos direitos sociais, dilatando muitíssimo, até diluí-lo ou correndo o risco de torná-lo quase incompreensível, o significado atribuído por Foucault aos termos “biopoder” e “biopolítica”. Originalmente, Foucault usa essas definições para “fazer a diferença”, ou seja, de acordo com o próprio da genealogia, para especificar as modalidades de funcionamento de tecnologias do poder que atuam de modo muito diferente uma da outra, embora não se pondo em sequência uma com a outra: os dispositivos de soberania trabalham com a morte, podem ser qualificados como “thanatopolíticos”, porque subtraem da morte (assim, evidentemente em Hobbes , por exemplo, até as origens da estatualidade moderna) ou porque à morte enviam novamente os viventes (como no caso da guerra); os dispositivos de biopoder, ao contrário, inserem o poder na vida, gerindo as necessidades “vitais” de reprodução do corpo político entendido como um volume de trocas, um conjunto de relações, um nó de processos dos quais se trata de garantir o incremento.
Reitero e enfatizo que não se trata de uma sequência, isto é, como se Foucault pretendesse aludir – assim, em vez disso, ele foi lido muitas vezes – a uma passagem de um antes a um depois; à “substituição” da soberania pelos biopoderes. As lógicas da soberania permanecem efetivas mesmo quando os biopoderes tomam posse sobre a vida, e certamente pode-se dizer com Weber que o Estado, ou o que dele resta, ainda age como detentor monopolista da violência. O que interessa a Foucault, em vez disso, e por motivos que remetem às revoltas antipastorais dos anos 1960 e 1970 – as das mulheres que põem em discussão os governos patriarcais dos corpos, as dos movimentos gays que rejeitam o governo da “vida” e das escolhas sexuais, as dos movimentos sociais que contestam a ideia de um destino já escrito para cada um e para todos “do berço à sepultura” (para retomar a fórmula de Beveridge ) –, é traçar a genealogia dos poderes administrativos e de cuidado que se ligam à materialidade da vida e que tentam governá-la orientando as suas formas de expressão. Há um ponto, além disso, que me parece decisivo. Justamente em A vontade de saber, não na prosa às vezes descontrolada dos Cursos, quero sublinhar, e exatamente onde Foucault introduz e define o termo “biopoder”, ele nos diz que não apenas a vida, nunca tendo sido completamente integrada, escapa continuamente das tecnologias que a dominam (“sans cesse elle leur échappe”, escreve ele), mas também que, na imanência concreta de “processos reais de luta”, “a vida como objeto político foi […] tomada literalmente e invertida contra o sistema que começava a controlá-la”. Isso me parece decisivo.
Ao contrário do que Agamben pensa, para o qual a história da soberania coincide com um dispositivo de “banimento” para o qual a “vida nua” é, ao mesmo tempo, incluída e excluída (incluída enquanto excluída) pelo direito, representando deste último o fundamento indizível e não dito, em Foucault a operacionalização dos biopoderes coincide com o relançamento de uma resistência; com a invenção de outras vias de fuga. Acho que o ponto é decisivo, em relação ao que me é perguntado. A questão do biopoder nos ajuda a traçar, ainda agora, o campo do confronto entre comando e liberdade, entre poder e resistência. Especialmente se, novamente com Foucault, continuamos pensando que é a resistência que força o poder a mudar as próprias estratégias. Uma imanente e autopoiética transformação dos dispositivos, realmente, não ocorre.
IHU On-Line – Em que medida Foucault, Agamben e Esposito se inspiram na ideia do déspota de tipo novo, de Tocqueville?
Sandro Chignola – Pelo que me lembre, nenhum deles se refere mutuamente, na realidade. Na literatura política pós-revolucionária da primeira metade do século 18, porém, é constante a preocupação com a “reanimalização” do sujeito político. Uma animalização que deve ser entendida em sentido inverso em relação à antropologia política aristotélica, para a qual o homem é um “vivente político e dotado de faculdades de palavra” (anthrópos politikon zoon kai logon echon). Em muitos autores do liberalismo conservador francês (Tocqueville , Lamennais , Royer-Collard, por exemplo, mas, em outros aspectos, também em Nietzsche), a ideia que se repete é que a humanidade está entrando em uma fase pós-política que reatualiza a imagem platônica do mito do Político: a dos pastores divinos. Ocupei-me disso no meu livro Il tempo rovesciato. La Restaurazione e il governo della democrazia [O tempo invertido. A Restauração e o governo da democracia]. A modernidade completa, o advento da democracia, implica uma radical despolitização das relações e uma radical privatização do sujeito que é constantemente relançada pelo desenrolar dos mecanismos representativos. As revoluções se tornam raras em tempos de democracia, Tocqueville justamente poderá escrever. Com a figura do déspota de novo tipo, ele alude a uma figura pastoral – a imagem que se repete não é a do déspota clássico, a figura tanatopolítica do vampiro que suga recursos do território sobre o qual incumbe, mas a do poder benevolente, cotidiano e doce que reduz progressivamente a humanidade a ser um “rebanho de ovelhas industriosas” confiadas às mãos do próprio pastor – que enfatiza a crescente incidência dos dispositivos administrativos e de governo sobre a vida dos indivíduos e da massa que tratam sob as espécies do “público”.
O que me interessa é que, um pouco como em Foucault, aqui não se trata de “profecias” sobre o advento da sociedade de massa (Tocqueville, às vezes, foi lido assim…), mas da genealogia de um tipo novo de poder que se dota de poderosos instrumentos de tipo administrativo para construir e para governar, isto é, para recompor aquela “société en poussiere”, como Royer-Collard a chamaria, residuada pela Revolução Francesa e pela máquina de identificação dos direitos fundamentais. É nessa fase, além disso, que o liberalismo da Restauração se autodefine como “libéralisme gouvernamental”. Como Tocqueville, Foucault identifica esse deslize em direção administrativa da racionalidade de governo que se acompanha de uma descentralização das clássicas funções de soberania do Estado e das modificações que isso implica em relação às práticas de assujeitamento e de subjetivação. Em particular: a emergência de um tipo de subjetividade que pede ininterruptamente para ser governada, por ser politicamente indigente e constantemente necessitada de cuidados… Em Foucault, no entanto, permanece um elemento de excedência, como eu ressaltava um pouco acima, você remete a vida àquilo que ela, mesmo assim, permanece sendo em potência: liberdade, autonomia, construção. E será nessa remissão que Foucault passará a estudar os gregos: o único arquivo da filosofia no qual não existe a palavra indivíduo, e no qual a ideia de um governo vitalício é, se não se é escravo, literalmente impensável.
IHU On-Line – Partindo do pressuposto de que governar requer energia, deliberação e autonomia, em que medida há um paradoxal aprofundamento da animalização política com o aprofundamento da democracia?
Sandro Chignola – A democracia, Tocqueville novamente diz isto claramente, deve ser definida em termos de tendência, ou seja, como um processo, que Tocqueville qualifica, além disso, como irresistível. No seu coração, está a produção incremental de igualdade. E a fórmula política da igualdade é a representação política. Representar significa visibilizar um ausente. Mais ainda do que isso, empurrar continuamente para a ausência o sujeito político coletivo que é representado. Paradoxalmente, o povo só existe se presentificado por quem fala em seu nome; por quem o representa, justamente, tutelando a igualdade de todos diante do soberano sujeito coletivo. Trata-se da lógica inexorável que se desenrola no capítulo 16 do Leviatã, de Hobbes. Representar significa, em Hobbes, sujeitar o lobo do Estado de natureza e domesticá-lo por meio da ameaça da espada, é claro. “Man is not fitted for Society by Nature, but by Discipline”, está escrito no De Cive. Mas também transformá-lo em animal balido e produtivo.
No frontispício mandado desenhar por Abraham Bosse para o Leviatã, o soberano, porém, não incumbe no próprio território segurando na mão apenas a espada, mas também mantendo levantada, na outra, o bastão pastoral. O povo anônimo que se recompõe no corpo do soberano é, por um lado, o povo cuja conflitualidade é resolvida pela lei, mas, por outro, é o povo administrado, resgatado pela ausência política à qual é relegado pela irresistibilidade do poder soberano e convocado materialmente como objeto de cuidado governamental. Não é imediato dar-se conta que Hobbes, o terrível Hobbes, o absolutista Hobbes, é, na realidade, o pai da moderna democracia representativa. E, no entanto, é exatamente isso: a Revolução Francesa se encarregou de levar esse projeto à efetividade constitucional. Por um lado, garantindo igualdade e liberdade dos indivíduos por meio de instituições representativas, por outro, defendendo esse programa de liberdade e de igualdade por meio de uma administração encarregada de agir em favor do interesse público, isto é, de todos.
Para Tocqueville, talvez o primeiro a compreender a absoluta continuidade entre Ancien Régime absolutista e Revolução, isso comportará aquilo que eu lembrava antes: ou seja, o duplo movimento com base no qual a delegação às instituições representativas da liberdade política (fingimos ser livres apenas no momento em que, votando, escolhemos o próprio patrão, escreve ele em Democracia na América, para depois voltarmos a ser pacificamente, e sem descanso, submissos a ele) envolve a cessação da responsabilidade política da própria liberdade, a renúncia ao autogoverno e a transformação do sujeito em um dócil animal gregário simplesmente devotado ao consumo e à jouissance…
IHU On-Line – Na democracia, a governamentalidade se desloca da soberania para a administração. Pensando a partir de Foucault e Agamben, como podemos compreender os jogos múltiplos e cambiáveis do poder que se apresentam em nosso tempo?
Sandro Chignola – Uma das assinaturas da contemporaneidade é a tecnicização da decisão política. Que, por ser cada vez mais técnica – isto é, ditada pelas supremas razões da eficiência econômica ou do mercado, orientada por problemas de segurança, modulada sobre as exigências do capital –, também é cada vez mais subtraída dos procedimentos de formação e de controle das instituições democráticas. Não somente a democracia está em crise – como demonstram a crescente desafeição com os mecanismos eleitorais, o retorno da guerra, a corrupção endêmica que atravessa os sistemas políticos –, mas também as instituições clássicas às quais ela se liga no sistema das relações internacionais (o Estado, a soberania nacional, a moeda) parecem ser submetidas a tensões e a torções talvez irrecuperáveis. Mas não se trata, no meu modo de ver, de um processo unívoco ou linear. Isto é, não pretendo defender que o Estado, a soberania nacional, os procedimentos decisionais clássicos da democracia tenham sido simplesmente exonerados com a implantação do neoliberalismo e das fórmulas de governance pós-democrática que tecnicizam a decisão, invertem os eixos da legitimação (uma decisão não é assumida como legítima com base nos procedimentos constitucionalmente garantidos, por meio dos quais ela foi se formando, mas com base na promessa de eficácia da qual ela afirma saber se encarregar), desenham níveis de intervenção sobre o qual é possível fazer deslizar saberes especializados, recrutar autoridades administrativas e comitês independentes, deixar operar dispositivos “técnicos”.
O que me parece relevante é como, dentro desse complexo de transformações que dizem respeito às contemporâneas instituições da política, a “democracia”, do modo como a conhecemos historicamente, é radicalmente mudada, e como também são radicalmente mudados o papel e a função do Estado, da soberania nacional e da moeda, em vista do “governo” dos fluxos de informações, pessoas e coisas, que, entre financeirização da economia e chantagem da dívida, enredam o globo. Pois bem: Foucault e Agamben ajudam. Não somente porque põem novamente em discussão o que as retóricas mainstream, em vez disso, dão por descontado, mas por causa de um estilo de pensamento que se move da atualidade (as transformações do poder e a heterogeneidade dos seus dispositivos, em Foucault; o fato de levar a sério o que é um centro de detenção para imigrantes, um “campo”, ou o que envolve pôr novamente em dúvida a forma-de-lei, em Agamben) para repensá-la, problematizá-la, olhá-la à luz das possibilidades de transformação ulterior. A partir daí, mais uma anotação, se me é possível. Não se trata, parece-me, de produzir um efeito “escolástico”, risco ao qual, muitas vezes, se sucumbe (explico: retomar acriticamente os conceitos desses autores, continuar a ruminá-los, aplicá-los facilmente demais…), mas de retomar e de relançar um “estilo”, inventando novos conceitos que nos permitam nos encarregar da responsabilidade do pensamento no presente em que, irrevogavelmente, se pensa.
IHU On-Line – A potência do não, em Agamben, e a liberdade, em Foucault, podem ser consideradas categorias correlatas? Por quê?
Sandro Chignola – Não diretamente, parece-me. No mínimo, por uma coisa relevante, isto é, pelo fato de que, para ambos, não se trata mais, porque isto é impossível, de pensar a expressividade da liberdade na forma representativa. Ser livre significa ativar práticas destituintes e não constituintes; iniciar trajetórias e linhas de fuga. Trata-se de escapar da jaula da soberania. Incluindo aquela forma primeira da soberania que torna homólogas a liberdade e o querer na fórmula primeira da subjetividade como “eu quero”. É aqui, nessa ilusão de soberania, que insiste o fascismo que devemos combater desde o seu último reduto, isto é, dentro de cada um de nós. Ninguém está sozinho; ninguém é uma vontade. Cada um de nós é uma forma-de-vida, uma relação intensiva, uma conjugação de afetos. Como se vê, estou me deslocando para Spinoza e para Deleuze. Mas é Tarde , aliás, justamente um dos autores de Deleuze, que nos diz que a sociedade não é feita de indivíduos, mas sim cada indivíduo é, na realidade, uma sociedade. Uma forma-de-vida, justamente; uma conexão. Quando Foucault diz que ainda devemos “cortar a cabeça do rei” na teoria, eu acredito que ele quer nos dizer duas coisas: a primeira é que devemos nos livrar da ideia de que o poder tem um lugar e que, para fazer a revolução, basta ocupar justamente esse lugar. É isso que determina, no século 20, catástrofes políticas que se movem a partir de sonhos de revolução. Mas a segunda é precisamente que devemos nos livrar também da moderna forma de identificação que, de Descartes em diante, fixa o sujeito na própria autorreflexão e na vontade própria. Foucault e Agamben, podemos dizer assim, portanto, têm um pouco o mesmo problema: como desativar os dispositivos de poder; como inventar outras formas-de-vida. Mas, aqui, parece-me, as estradas logo se dividem.
IHU On-Line – Quais são os limites do diagnóstico de Agamben na reflexão sobre a política contemporânea e seu aprisionamento por dispositivos como a economia, por exemplo?
Sandro Chignola – Eu não tenho certeza se posso indicar os limites de Agamben. É claro, muitas vezes, a pedido, para seminários ou para conferências na América Latina e, particularmente, no Brasil, eu me ocupei criticamente de alguns de seus livros e, neste caso, encontrei-me sublinhando fundamentalmente duas coisas: a primeira é como Agamben frequentemente lê os seus autores forçando-os (mas se trata de uma operação que ele sempre reivindicou e que lhe permite, como ele escreve, poder abandoná-los para “pensar por si mesmo”), a segunda é que eu não posso compartilhar a sua ideia “vitimária” da subjetividade. O que pode um corpo, ninguém pode saber, dizia Deleuze. O que pode ser uma vida – virtualidade, variação, conjugação –, ainda menos nós podemos nos iludir de saber. É claro, eu não consigo pensá-la como “vida nua”, nem mesmo lá onde foi, ou possa ser, mais feroz a mordida do poder que a domina. Posso dar um exemplo: o que nos dizem as migrações, os corpos abandonados entre as margens do Mediterrâneo, senão que o mais forte de qualquer domínio é o desejo de liberdade e de movimento pelo qual se põe em jogo a vida? Não há algo de constitutivamente excedente em relação à linearidade operativa dos dispositivos que trabalham incansavelmente para a sua captura? Pois bem: quando Agamben nos explica – refiro-me à conferência sobre O dispositivo (O que é um dispositivo?. Tradução de Nilcéia Valdati. Santa Maria – RS: Palloti, 2006) e ao livro L’aperto (O Aberto, Tradução de André Dias e Ana Bigotte Vieira. Lisboa: Edições 70, 2011) – que o primeiro dispositivo de captura que nos perdeu é a linguagem, o que nos resta para imaginar e para agir perspectivas de libertação? Obstinadamente, continuo sendo da ideia – sobre isto implanto a minha coerência militante e científica – de que não somente é necessário tomar partido na batalha cotidiana entre liberdade e domínio, mas também que é preciso se encarregar concretamente de manter aberta a porta estreita do futuro a um mundo-que-vem somente se afetos, relações e desejos forem postos em comum dentro de práticas voltadas a destruir o domínio. Fazer isso significa ter acesso à dimensão da cupiditas e da potentia, e não se limitar ao testemunho do horror.
IHU On-Line – Por outro lado, quais são as possibilidades que se abrem com a crítica que Agamben realiza à propriedade, contrapondo-a ao uso?
Sandro Chignola – Aqui me parece que Agamben, assim como uma de suas referências, o grande romanista Yan Thomas , e, em outros aspectos, como muitos de nós, tenta pensar a dimensão operativa do direito, a sua operação, junto com a possibilidade de contorná-la ou de invertê-la contra si mesma. O coração do moderno, dizia Marx, obviamente, é o “terrível direito” da propriedade: este é o motor da chamada acumulação primitiva de capital e das modalidades pelas quais ela se reproduz ininterruptamente às custas dos commons, dos bens comuns, que podem ser entendidos tanto como aquilo que deve ficar à disposição de todos (água, ar, recursos naturais), quanto aquilo que a livre cooperação dos humanos produz em favor de todos (a web, por exemplo, com as práticas livres de sharing que a percorrem). “Usar” significa, nessa perspectiva, manter as coisas no comum e não subtraí-las dele. Ainda mais: significa “profanar” o sagrado da propriedade e recolocar a dimensão do inapropriável no coração da práxis. Trata-se, de algum modo, de escapar de novo do perímetro formal do moderno direito de cidadania e de destituir o vínculo que o liga ao individualismo proprietário. O uso permite, por isso, imaginar outras formas-de-vida e – é isto que, pessoalmente, muito me interessa – instituições e fórmulas de regulação que não coincidem com as estruturas, formalistas, abstratas e proprietárias, da Lei, do Direito e dos poderes que os garantem. Canguilhem tentou pensar como normativas as formas autorregulativas da vida. Acho que nessa direção – não só em Canguilhem, obviamente, mas também escavando na genealogia da instituição, do costume, do hábito, para permanecer no léxico jurídico e político – é possível avançar e levar a efeito algumas das premissas mais relevantes da “biopolítica”. Com Negri , e ao contrário de Agamben, tendo a pensar que, pelas próprias formas que caracterizam o capitalismo contemporâneo, nas quais o comando não é mais o motor da produção, e a jornada de trabalho não é mais subsumida na medida do salário, surgem possibilidades concretas para a superação do domínio (o quão concretas, na realidade, eu não sei: eu sei que isso, no entanto, é aquilo pelo qual me consumo e trabalho…). Trata-se de criar instituições capazes de se inserir na vivente cooperação entre os indivíduos para sustentá-la, potencializá-la e incrementá-la. Uso contra propriedade, regra contra lei, instituição contra forma-direito são diferentes modos para conjugar um único problema.
IHU On-Line – Em que medida a categoria de forma de vida agambeniana dialoga com a filosofia de Foucault sobre o cuidado de si e quais são suas diferenças fundamentais?
Sandro Chignola – Neste caso também, mais do que um diálogo, trata-se de identificação de um mesmo problema. Como pensar a subtração aos dispositivos de poder e, em particular, àquele poderoso dispositivo de assujeitamento que é a própria forma do subiectus? O que entra em questão aqui é a própria ideia de filosofia: durante séculos, ensinou-nos Hadot , que defendia que tinha ensinado isso ao próprio Foucault, a filosofia teve a ver não com o conhecimento, mas com a prática de si e com a prática da relação com o mundo, que o vivente, e em particular aquela forma específica de vivente relacional que é o vivente dotado de faculdade de linguagem, antes de tudo, é. Nem mesmo na ascese monástica o indivíduo jamais está sozinho. Ele se relaciona com o vento, com o silêncio, com o próprio ritmo, com o Outro – seja ele Deus ou o demônio – e com a sua palavra. Nas escolas socráticas antigas e tardo-antigas, no estoicismo, no cinismo, a filosofia é uma forma-de-vida que produz a sua própria institucionalidade (exercícios, regras, escolas) e que rege o desafio com o mundo. Não uma filosofia das alturas (como a platônica) ou uma filosofia dos abismos (tais as pré-socráticas), mas uma filosofia das superfícies, do contato e dos choques, lembra-nos Deleuze. Uma forma-de-vida que é constantemente posta à prova e que o risco da responsabilidade de si mesma deve sustentar continuamente.
Foucault, acho que já demonstrei, trabalha sobre a divergência que Weber tematiza entre a direção da consciência cristã (confissão) e o cotidiano “testar-se o pulso” da terapêutica da graça protestante. Agamben assume de maneira muito decisiva os aspectos institucionais da forma-de-vida franciscana. Deixando de lado, porém, os aspectos que também dentro desta última reproduzem a centralidade do pastorado. Pessoalmente, eu prefiro seguir Foucault; “Jeder sei auf seiner Art ein Griecher! Aber er sei’s” [Cada um seja um grego ao seu modo. Mas seja-o], escrevia, aliás, o velho Goethe … Tornar-se-grego significa abster-se da forma que a filosofia assumiu naquilo que Foucault identificou no “momento cartesiano” da sua história; significa, mais uma vez, desabilitar o nexo entre reflexão, separação do cogito do mundo, instalar-se do sujeito sobre a própria certeza e em posição vertical soberana em relação a este último. E significa, ainda, contestar a insularidade na qual o subiectus se encerra, separando-se do comum das singularidades. E é dentro deste último, em vez disso, que devemos poder ser tudo aquilo que somos…